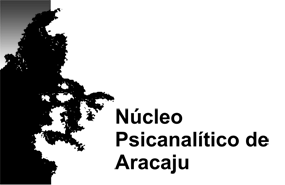Medo, amor e hemofilia
14/02/2014
Sobre medo, amor e hemofilia: o trabalho psicanalítico em uma unidade de saúde especializada [1]
Quer imprimir ou arquivar? Clique aqui
Quando iniciamos uma atividade, nunca sabemos quanto isso irá nos ensinar e trazer novas experiências emocionais. Em 2009, era funcionária pública do serviço de humanização de uma unidade especializada da saúde e fui transferida para o setor de ambulatório dessa unidade, pois não havia psicólogas concursadas, e o contrato de trabalho das psicólogas anteriores havia se encerrado. Assim, me vi com o desafio de atender pacientes do SUS com doenças ligadas ao sangue. Mais particularmente, crianças com hemofilia.
Pensei, então, que meus conhecimentos psicanalíticos poderiam se tornar uma ferramenta diferenciadora em meu trabalho no serviço público, tanto no atendimento clínico-institucional como no olhar e na escuta diferenciados aplicados à instituição: o olhar sobre como a criança vê seu corpo e lida com suas sensações e sentimentos e como se dão as relações grupais, de forma consciente e inconsciente, determinando as resistências e impossibilitando a melhoria de trabalho, vida e cuidados com a saúde. É sobre essa experiência que passo relatar agora. Entretanto, é importante, antes, compreender um pouco mais a hemofilia, distúrbio que acomete os pacientes descritos no presente trabalho.
Sobre a hemofilia
A hemofilia é um distúrbio de coagulação de origem genética, transmitida pelo cromossomo X, e observada com menos frequência em mulheres. No gênero masculino, que possui em seu DNA o par de cromossomos XY, se o cromossomo X for deficiente, a doença se manifestará. Já no gênero feminino, que tem dois cromossomos X, se um deles for deficiente, o cromossomo saudável supre as necessidades orgânicas, e o distúrbio de coagulação não se desenvolve. A patologia basicamente ocorre por transmissão de mãe para filho, pois ela é quem transmite o cromossomo X. Já o pai, que transmite o Y, determina o gênero formado pelo par XY. A exceção à regra é a mutação genética, que ocorre com alguma frequência também.
O hemofílico é uma pessoa que tem deficiência em fatores de coagulação do plasma sanguíneo numerados de VIII ou IX, os mais comuns. Esse fator participa do processo de coagulação do sangue e é um dos responsáveis pelo processo de cicatrização-regeneração em uma forma mais ampla. Assim, o hemofílico é uma pessoa com tendência a lesões graves, desde hemartroses a acidente vascular cerebral (AVC). O tratamento consiste em injeções de fator, manipulado em laboratório de forma venosa. Como não existe cura, a aplicação de fator é constante em toda a vida do paciente, do seu diagnóstico, na primeira infância, até a velhice. Atualmente o governo oferece a possibilidade do tratamento preventivo às lesões, o que não é ainda amplamente praticado em nosso estado. Além disso, o fator intravenoso é algo relativamente novo; antes, os hemofílicos recebiam um hemocomponente chamado crioprecipitado, que, como se descobriu, foi responsável pela transmissão de algumas doenças, como a hepatite.
O portador da hemofilia carrega em si uma falta concreta. A falta do fator VIII ou IX e, por conta disso, dores e lesões. Como poder trabalhar com esses pacientes nas condições possíveis foi o primeiro grande desafio.
Existiam dois caminhos que precisavam ser percorridos: compreender como trabalhar com crianças com um corpo tão frágil, sua noção de representação corporal e as dores e limitações que o distúrbio provoca, e contextualizar esses pacientes dentro das paredes institucionais – local que ele terá de visitar sempre que necessário, por toda a sua vida.
A instituição, o olhar e a escuta
Em um setting tradicional, teríamos uma sala espaçosa, com os materiais adequados e gavetas individuais para cada criança, um horário fixo e um feedback de comprometimento com o pagamento dos honorários. E no serviço público? Como trabalhar?
A primeira ideia que surgiu, pela forte influência de minha formação em psicologia do trabalho, foi integrar os diversos profissionais e ouvi-los. Ouvir também os pacientes, seus familiares e acompanhantes. Enfim, contextualizar essa nova experiência. Na psicologia do trabalho, chamamos esse movimento de estudo da cultura organizacional. Através de reuniões com grupos, era possível compreender melhor a realidade que se apresentava.
Alguns psicanalistas de São Paulo têm desenvolvido pesquisas sobre a atuação da Psicanálise em instituições e comunidades, que se assemelham muito com a proposta deste trabalho. Farkas (2012), por exemplo, fala de uma demanda parecida em um trabalho realizado por ela, chamado “Psicanálise sem divã”.
“Psicanálise sem divã” é o relato das experiências vividas no trabalho com agentes de saúde em São Paulo, com olhar e escuta psicanalíticos, que mostra uma necessidade que também senti em minha prática: fazer uma escuta de todos que frequentam a instituição e estimular a troca dos agentes de saúde através de reuniões grupais. A falta de recursos, limitações econômicas, pessoais e laborais, além de profissionais que têm uma expectativa de trabalho muito superior ao encontrado na realidade, geram angústias e frustrações, diminuindo a eficiência e a capacidade de trabalho das equipes. Segundo Farkas (2012), no grupo, a proposta é transformar essas limitações em delimitações de trabalho, criando um espaço de atuação dentro do que é possível e dando possibilidade de contenção.
Na unidade de saúde em que trabalho, foi criado um grupo com os profissionais de saúde que, durante algum tempo, pôde auxiliar a conter algumas angústias. As atividades com o grupo, iniciadas pela diretoria e delegadas a mim, durante um ano e meio, foram realizadas em reuniões mensais, nas quais discutíamos questões como a falta de recursos e como consegui-los, as dificuldades no tratamento dos pacientes e a ausência de participação dos diretores e parte administrativa no compromisso do cuidar. Entretanto, o grupo também entrou em colapso. Parece-me que uma conjunção de vários fatores foi determinante para isso: de um lado, havia o comprometimento dos profissionais concursados e seu sentimento de pertencência e segurança em relação à instituição; de outro, a constante rotatividade de profissionais não concursados, a dificuldade de marcar horários para essas atividades, a falta de motivação e de colaboração dos gestores institucionais. Farkas (2012) também aponta essas sérias limitações impostas pela realidade do serviço público e a necessidade do olhar psicanalítico para superar as resistências, pelo conhecimento dos mecanismos inconscientes. Pastore (2012) complementa, esclarecendo que, para a psicanálise, a escuta deve ser do que é ignorado quando se fala. A escuta supõe um princípio de ignorância mútua de quem fala e de quem escuta, para que então apareça o que ainda não se sabe.
Mesmo sendo apontadas, as resistências não foram rompidas, e os encontros do grupo foram diminuindo. Entretanto, o tempo em que ele existiu foi suficiente para proporcionar uma integração entre os profissionais, transformando o atendimento dos pacientes em um trabalho interdisciplinar.
A integração do grupo de trabalhadores se fez importante para ampliar o sentimento de pertencência do paciente à instituição, da qual ele será usuário por toda a vida. Quanto mais integrados estiverem os profissionais, maior acolhimento será possível.
Para Hannah Arendt, citada por Silvia M. Bracco (2011, p.59). “Um indivíduo não consegue alcançar existência se não ocupar um lugar, fizer parte de uma história, de uma casa, de uma família, uma cidade, uma cultura. A condição humana (...) só se define se pertencermos a um mundo compartilhado por outros homens. Ela mostra como o totalitarismo e outras formas de exclusão da espécie humana destroem não só a esfera pública (jurídico-política), mas também o psiquismo na sua capacidade de pensamento e simbolização” (TEREPINS, 2009, p.205).
Assim, quando a instituição se coloca no lugar do que está em falta, torna-se referência e abre espaço para a construção não só do indivíduo, mas do cidadão.
Penso como Silvia M. Bracco (2001, p.32): “A instituição ocupa um lugar que estava vago, promove experiências que podem ser significadas pela ordem da construção, vai aos poucos oferecendo vocabulário, modelos, perspectivas”. Oferece elementos de confiabilidade. Funciona como um campo sociocultural de referência, embora muito restrito e limitado. Supre algumas falhas ambientais (KINOSHITA, 2009, p.208).
Feita a escuta e o olhar sobre a instituição, o setor, os pacientes, os profissionais e os familiares, foi possível dar o segundo passo: o atendimento clínico-institucional propriamente dito. Trazer os pacientes para o consultório, montado com as limitações impostas pelo setor público, e ouvi-los. E ouvir, principalmente, como esses pacientes lidam com seu corpo, um corpo frágil, um corpo que dói, um corpo em falta.
O paciente e seu corpo
A primeira ideia que tive ao assumir esse trabalho foi investigar como é construída a representação corporal desses pacientes, e lembrei-me da construção dos conceitos de mente e corpo feitas por Descartes em meados do século XV. René Descartes (1596-1650), fundador da filosofia e da matemática modernas, postulou um conceito muito utilizado até hoje. Ele dividia a realidade em res cogitans (consciência, mente) e res extensa (matéria). Buscando aproximar a religião da ciência, Descartes afirma que a alma é imortal e habita um corpo mortal. Sholl (2010) comenta que o “eu sou, eu existo”, frase mais famosa de Descartes, é verídica, no sentido de que a concebo em meu espírito, minha alma e, assim, tenho a imortalidade. E o corpo seria uma máquina que, sem a alma, é desprovido de inteligência.
Descartes fez uma antítese entre mente e corpo que, de certa forma, seccionou o ser humano. Diante dessa tentativa de imortalizar o homem e lidar com a morte, a mente passou a ser uma entidade própria, algo além do corpo. A representação da mente passa a ser algo desvinculado do corpo. O corpo tem uma representação concreta, delimitada pelo espaço e pelo tempo, enquanto a mente (alma) foge do concreto e se torna abstrata, sem tempo e espaços definidos.
Esse primeiro pensamento da era moderna foi reconstruído e repensado por muitos estudiosos, que buscaram retomar a crença de que corpo e mente são inseparáveis. Os psicanalistas partiram em busca dessa defesa. Winnicott cita as palavras de Jones, sobre a integração mente-corpo:
Arrisco-me a prever que, nesse dia, a antítese que tanto desconcertou os filósofos revelar-se-á baseada numa ilusão. Em outras palavras, não acredito que a mente realmente exista como uma entidade – o que é possivelmente algo surpreendente para ser dito por um psicólogo... [itálicos do autor]. Quando falamos da mente influenciando o corpo ou do corpo influenciando a mente, estamos apenas utilizando um recurso taquigráfico conveniente em lugar de uma frase bem mais desajeitada... (JONES, 1946 apud WINNICOTT, 2000 [1949], p.332).
Ele ainda explica que o mental e o físico são de instâncias distintas, como duas vertentes de um mesmo eixo. Aqui, podemos começar a ensaiar a possibilidade de a mente vir em uma segunda ordem em relação ao corpo, mas não necessariamente secundária. A mente seria uma extensão do corpo e vice-versa:
É lógico contrapor soma e psique, e portanto contrapor o desenvolvimento emocional ao desenvolvimento corporal do indivíduo. Não é lógico, porém, opor o mental ao físico, pois não são da mesma ordem. Os fenômenos mentais são complicações de importância variável na continuidade do ser do psicossoma, na medida em que contribuam para formar o eu individual (WINNICOTT, 2000 [1949], p. 346).
Esse desenvolvimento do pensamento sobre mente e corpo ganha o seu auge nas ideias de Ferrari (1995), segundo o qual a mente nasce junto com o corpo, por serem a mesma coisa, mas sua representação psíquica se dá com o desenvolvimento do ser, conjuntamente com as interações com o meio.
Na construção mental, o indivíduo, no desenvolvimento psíquico, se dá conta de seu corpo em um primeiro momento, e esse corpo se torna seu primeiro objeto de contato para a instância psíquica. O corpo é o limitador e construtor da realidade, impondo as dimensões de tempo e espaço para o estabelecimento do psíquico. Assim, ao contrário de Descartes, que afirma que a alma dá vida ao corpo e permanece mesmo na ausência deste, Ferrari afirma que é o corpo que abre espaço para a construção do mental no sentido do psiquismo. Assim, o psiquismo se desenvolve a partir da realidade do corpo e juntamente com ele. Um bebê, desde que é gerado, começa a desenvolver seu corpo e sua estrutura psíquica em conjunto e a partir do corpo. Ele chama esse corpo de objeto originário concreto (OOC). Visto que é o primeiro contato, antecede os objetos internos e externos com que os psicanalistas estão tão familiarizados. O OOC faz parte da fisicidade do corpo, algo que não pode se tornar representação, pois, quando se torna, passa a ser corporeidade.
Como já discutimos amplamente em trabalhos precedentes, não consideramos que o objeto principal da mente seja o seio materno (ou a mãe), em todas as suas possíveis representações, mas aquilo que chamamos de Objeto Originário Concreto (OOC). Este, porém, não é um objeto psíquico em sentido clássico, pois não é nem um objeto externo (fornecido pelo ambiente), nem um objeto interno (resultado de um processo introjetivo). É um objeto concreto, que existe antes de qualquer introjeção; é a matriz originária de uma fisicidade que se exprime por sensações e emoções, e está ligado às funções fisiológicas que precedem todas as formas de atividade psíquica: nós o compreendemos como um núcleo originário de identidade físico-psíquica do qual a criança não pode prescindir. Nesse sentido, a acepção de objeto é entendida de modo substancialmente diferente da acepção do modelo clássico: entende-se por OOC uma espécie de núcleo primigênio de funções somáticas (sensoriais, fisiológicas, metabólicas, etc.), já presente no momento do nascimento, que se articula com as funções mentais primárias de contenção e registro (FERRARI; CARIGNANI, 2004, p. 168-169).
Resumindo, compreendemos que o corpo dá espaço para o desenvolvimento do psiquismo e, ao mesmo tempo, para as vivências, experiências, sensações e que, inicialmente, “protossentimentos” passam a ser processados e começam a desenvolver representações mentais. O psiquismo tem a função de auxiliar o desenvolvimento do ser nas adaptações à vida. A mente, instância mais evoluída do ser, busca desenvolver novas capacidades adaptativas a partir das experiências corporais internas e das relações com o meio. Assim, ela passa a construir sua identidade ou, conforme Ferrari (2000), sua configuração egoica.
Se nossa configuração egoica se constrói em parte pelo nosso corpo, minha questão então é ver como os pacientes hemofílicos constroem sua representação corporal e como olham para si através de um corpo em falta. De um corpo que dói. Um corpo frágil. Pois esse corpo é parte integrante de seu psiquismo. Esse foi o olhar que permeou o início dos trabalhos. Entender como os pacientes podem se reconhecer. E, se existe algo que compromete o desenvolvimento da identidade ou configuração egoica, como criar um ambiente favorável ao seu desenvolvimento? Kinoshita (2009), citando Winnicott, afirma que condições favoráveis podem, com o tempo, dar à criança condições de desenvolver sua capacidade de amar ao invés de buscar reivindicações voltadas para objetos substitutos sem valor simbólico, o que complementa o pensamento de Freud (1996 [1914], p. 105), quando diz que “um indivíduo que ama prova-se, por assim dizer, de uma parte de seu narcisismo, que só pode ser substituída pelo amor de outra pessoa por ele. Sob todos esses aspectos, a autoestima parece ficar relacionada com o elemento narcisista do amor”.
A pergunta era: “Será que isso é pode ser feito em um ambiente com as carências próprias do serviço público?”.
O atendimento
As primeiras crianças foram agendadas pela recepção do setor. Logo percebi que isso acabava afastando ainda mais meu contato com a família e com o paciente. Devido à grande quantidade de serviço que a recepção tinha, começamos a ter problemas também de comunicação. O paciente avisava que não poderia comparecer, e a recepção não me comunicava; eu precisava me ausentar, e o paciente também não era informado. Tomei a decisão de manter contato diretamente com os pacientes e seus familiares, e eles passaram a ter o número de meu celular. Com isso, pudemos começar realmente os encontros. Ao contrário do que é possível pensar, não tive problemas de pacientes me telefonando em momentos inoportunos.
No contrato, tinha que pensar em como manter o vínculo e ter uma contrapartida deles, já que o atendimento pelo SUS é gratuito. Estabelecemos regras então. Os pacientes teriam que ter horários fixos de atendimento em hora e dia mutuamente acordados, as faltas deveriam ser justificadas e, em caso de três faltas seguidas não justificadas, o tratamento era interrompido e o paciente deveria retornar para a fila de espera, caso houvesse.
O interessante é que, com exceção de um caso que abandonou o tratamento, os demais pacientes passaram a seguir o estabelecido e pudemos então trabalhar. Os atendimentos normalmente eram com a periodicidade de duas sessões semanais, com exceção dos pacientes que vinham do interior, pela dificuldade de conseguir um carro da prefeitura, pelo tempo de deslocamento da criança com o responsável até a unidade de saúde, comprometendo, inclusive, sua frequência na escola.
No atendimento, um ponto que se faz necessário destacar foi a constante e intensa agressividade desses pacientes. Quando eles iniciaram o atendimento no consultório psicológico, tinham dificuldades com os limites para começar e terminar a sessão, assim como para brincar. Eles abriam todos os brinquedos, virando a caixa que os guardava, jogavam-nos para todos os lados da sala, quebravam, chutavam e, por vezes, alguns pacientes até se jogavam nas paredes. Algumas vezes, eu era o alvo das agressões. Nesses momentos, penso que a criança estava me dizendo que não sabia o que fazer com sua agressividade, que, acredito, estava intensificada pelo medo da dor. Algumas vezes, segurando uma mão ou uma perna na tentativa de conter as agressões a mim, eles se sentavam no meu colo. Eu os abraçava e eles se acalmavam. Nesses momentos, não achava que devesse dizer nada, pois me parecia que eles estavam em busca de um colo, de alguém que os ajudasse a lidar com o que estavam sentindo. Eles ficavam um tempo no meu colo e depois me convidavam para recomeçar as brincadeiras, já de forma mais calma. Isso aconteceu com muitos pacientes e me fez pensar sobre essa agressividade.
Iniciado esse trabalho de contenção, fui convidada a sair do setting do consultório para vivenciar o que passei a chamar de setting ampliado. Os pacientes estavam constantemente na unidade de saúde para ir ao fisioterapeuta, ao dentista, ao médico ou tomar fator, e era comum me encontrar com eles nos corredores ou na enfermaria. Também fui solicitada a trabalhar com os pacientes durante a aplicação do fator, de forma que as crianças tolerassem melhor a agulha e a dor da injeção.
Toda essa demanda veio como um furacão, em minha mente acostumada a um setting tradicional. Resolvi experimentar esse setting ampliado e interagir com os pacientes fora do consultório. Comecei nos corredores, e o processo de dar limites se ampliou, pois, com o tempo, os pacientes tiveram que aprender que o fato de me ver no corredor não significava que era hora de ir correndo para a sala “para brincar”. Vários deles pediam muito para ir ao consultório comigo, caso eu estivesse com o horário livre. Aos poucos, fomos conversando a respeito de estabelecer os nossos horários, e esse tipo de abordagem foi diminuindo.
Quando comecei a acompanhar a aplicação do fator, observei que seria necessário um trabalho com toda a equipe. A equipe de enfermagem não estava preparada para lidar com os aspectos emocionais que existiam no tratamento. Embora houvesse excelentes profissionais, com habilidade para “pegar a veia” facilmente, me deparava com cenas como quatro pessoas segurando uma criança para introduzir o fator à força, com profissionais dizendo: “não vai doer nada”.
Percebi que lidar com os hábitos dos profissionais seria algo muito mais difícil do que o trabalho propriamente com as crianças. Muitas vezes orientei sobre formas alternativas de aplicar o fator, mas o setor cheio de pacientes e a necessidade de aplicação imediata do fator para evitar lesões mais graves eram as principais justificativas usadas para a resistência à mudança.
Minha intervenção na aplicação do fator começou quando passei a pedir às mães ou responsáveis, juntamente com as crianças, que me chamassem sempre que possível, para que eu pudesse acompanhar o processo. Assim, comecei conversando com cada criança sobre a importância da aplicação do fator. Sempre que perguntavam se ia doer, a resposta que ouviam era que sim, que a furada doía um pouco, mas nada que não fosse possível suportar e que eu estava ali com ela para acompanhá-la. Nós estávamos juntos naquele momento.
Um dos menores, com três anos, no procedimento de aplicação, perguntou: “é uma picadinha de formiguinha?”. Ele me ensinou como trabalhar. Respondi: “é, é como uma picadinha de formiguinha”. Essa compreensão do paciente nos auxiliou no processo de conscientização do tratamento. Desse dia em diante, quando ele tinha muito medo da aplicação, eu o lembrava: “é a picadinha da formiguinha, lembra?”. E ele repetia e deixava que o técnico de enfermagem fizesse o procedimento. Algumas vezes a veia não estava “boa” e era necessário furar o outro braço, o que deixava o processo mais complicado, porque aumentava o sofrimento, e todo o trabalho até então desenvolvido perdia força.
Com o tempo, aconteceram duas coisas interessantes. Dentro da caixa de brinquedos, coloquei um kit de médico com estetoscópio, seringa, termômetro, entre outras coisas da realidade dos pacientes. Depois que começamos o trabalho do settingampliado no ambulatório, as brincadeiras com o kit se tornaram muito frequentes e nelas era eu quem tomava o fator. Duas crianças sempre me perguntavam se estava doendo. Elas aplicavam o fator com todo o cuidado, passavam o algodão depois, colocavam o protetor e diziam: “pronto, agora você vai ficar boa”.
O outro fato interessante é que, como meus pacientes acabavam se encontrando na unidade de saúde com frequência por conta da terapia, eles passaram a tomar fator juntos. Principalmente dois. Íamos nós três para a sala da enfermaria e eles diziam que já tinham crescido e que não iam mais chorar. Um observava o outro na aplicação do fator e depois viravam pra mim e diziam: “viu?”. Eu dava um abraço nos dois e eles voltavam a correr pelas dependências da unidade de saúde.
Pensamentos
O olhar e a escuta psicanalíticos aplicados à instituição me permitiram observar algumas coisas, o que não seria possível de outra forma. Os primeiros atendimentos foram os mais difíceis. Não compreendia o nível alto de agressividade com que crianças e adolescentes chegavam ao ambulatório. Somente tentando escutá-los e aprendendo a compreender a dificuldade de lidar com uma configuração egoica na qual a dor e as limitações estão muito presentes é que se pode entender o transbordamento de sensações e sentimentos por que passam essas crianças e suas famílias. A relação do paciente consigo é desconstruída a todo momento por uma queda, por um “não pode jogar bola”, “não pode andar de bicicleta”, que transformam a vida em uma série de limitações. Junta-se a isso o olhar materno, e posteriormente o dos outros, com sentimentos de pena, culpa, medo e tristeza. Um olhar que reflete o próprio sentimento do adulto por ter uma criança aparentemente limitada.
A construção da identidade pode ficar comprometida, e penso que a agressividade que esses pacientes trazem para o consultório é uma forma de dizer que estão vivos. Que querem e vão lutar contra a morte, a dor e o sofrimento. Winnicott fala que, às vezes, é necessário desorganizar para reorganizar, para compreender melhor esse corpo que se apresenta todo o tempo. Vejamos:
Pretendeu-se, com o termo ‘personalização’, chamar a atenção para o fato de que a morada desta outra parte da personalidade no corpo, e um vínculo firme entre o que quer que se ache lá e que chamamos de psique, em termos desenvolvimentais representa um conquista da saúde. Trata-se de uma realização que se torna gradualmente estabelecida, e não é doentia, mas em verdade, um sinal de saúde em que a criança possa usar relacionamentos nos quais há uma confiança máxima, e em tais relacionamentos às vezes desintegrar-se, despersonalizar-se e até mesmo, por um momento, abandonar a premência quase fundamental de existir e sentir-se existente. As duas coisas, portanto, andam juntas no desenvolvimento sadio: o senso de segurança em um relacionamento mantendo a oportunidade para a anulação repousante dos processos integrativos, ao mesmo tempo em que facilita a tendência geral herdada que a criança tem no sentido da integração, e, como estou acentuando neste artigo, na questão da morada ou habitação do corpo e o funcionamento corporal (WINNICOTT, 1994, p.203).
Penso que o trabalho maior deve se voltar para abrir um espaço para que a criança possa pensar suas sensações, seus sentimentos e ser ouvida. Esse processo de acolhimento foi, aos poucos, possibilitando estabelecer contato entre sensações físicas e representações psíquicas. Em um ano de trabalho, o nível de agressividade diminuiu consideravelmente, e colegas de trabalho questionavam-me o que tinha havido para que as crianças em acompanhamento ficassem mais calmas. Diagnósticos iniciais de hiperatividade foram descartados. A intervenção, dentro e fora da sala, teve o papel de acolher os pacientes não só concretamente pela instituição, mas deu-lhes a possibilidade de se olharem como pessoas com limitações como tantas outras, mas que podem aprender a conviver com isso.
Considerações finais
O trabalho com orientação psicanalítica, ou como diz Farkas, “a Psicanálise sem divã”, trouxe a possibilidade de uma qualidade de vida maior para todos. Os pacientes estão aprendendo a lidar com o que sentem e com seu corpo e, com os pacientes colaborando, os profissionais conseguem trabalhar melhor. O trabalho com os profissionais não foi o foco da experiência aqui relatada, até porque isso exigiria um tempo muito maior, devido às várias resistências, que vão aumentando a cada ano de trabalho, devido às características próprias de um serviço pelo qual perpassam vários interesses, muitas vezes antagônicos. Cabe ao psicanalista, principalmente, observar o funcionamento do ambiente, escutar o que não está sendo dito tanto pelos pacientes como pelos profissionais de saúde e, conforme as limitações e possibilidades, ir “interpretando”, através de suas ações, formas mais saudáveis de funcionamento.
REFERÊNCIAS
FERRARI, A. B. O eclipse do corpo: uma hipótese psicanalítica. Rio de Janeiro: Imago, 1995.
FERRARI, A. B.; CARIGNANI, Paolo. O Dia: técnica para análise de crianças, adolescentes e idosos. In: FERRARI, A. B. Vida e Tempo: reflexões psicanalíticas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.
FREUD, Sigmund. Sobre o Narcisismo: uma introdução. In: Edição Standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, vol. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1996 p.75-108 (Trabalho originalmente publicado em 1914).
KINOSHITA, Roberto Tykanori. Intervenções clínicas na comunidade: que psicanálise é essa? In: TANIS, Bernardo; KHOURI, Magda Guimarães (org.). A Psicanálise nas tramas da cidade. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2009, p. 201-212.
PASTORE, Jassanan Amoroso Sias. A escuta psicanalítica em instituições. In: PASTORE, Jassanan Amoroso Dias; SOARES, Sylvia Salles Godoy de Souza (org.) O psicanalista na comunidade. São Paulo: Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, 2012, p. 115-134.
SHOLL, Fábio. O problema mente-corpo em Descartes, 2010. Disponível em: . Acesso em: 25 mai. 2013.
TEREPINS, Chulamit. A Instituição como intervenção terapêutica. In: TANIS, Bernardo; KHOURI, Magda Guimarães (org.). A Psicanálise nas tramas da cidade. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2009, p. 201-212.
WINNICOTT, Clare. Sobre as bases para o Self no corpo. In: WINNICOTT, Clare. SHEPHERD, Ray; DAVIS, Madeleine. Explorações psicanalíticas: D. W. Winnicott. Porto Alegre: Artmed, 1994, p. 203-218.
WINNICOTT, D. W. A mente e sua relação com o Psicossoma. In: WINNICOTT, D. W. Da Pediatria à Psicanálise: obras escolhidas. Rio de Janeiro: Imago, 2000 (Trabalho originalmente publicado em 1949).
Resumo: O trabalho procura refletir sobre uma experiência profissional com crianças hemofílicas em uma unidade de saúde especializada, com o olhar e a escuta psicanalíticos. Analisando a relação corpo-mente e as relações institucionais, propõe-se um setting ampliado – do olhar, da escuta e de intervenções no sentido de conter as sensações e os sentimentos tanto dos pacientes como dos profissionais –, buscando romper as resistências e propiciar as mudanças necessárias para um funcionamento mais saudável.
Palavras-chave: Psicanálise, hemofilia, setting ampliado
Petruska Passos Menezes
Psicóloga 19/0636
Psicanalista em Formação pelo NPA/SPRPE
data de publicação: 14/02/2014
[1]Trabalho apresentado na Jornada do Núcleo Psicanalítico de Aracaju, Hotel Quality, de 30 de maio a 01 de junho de 2013.